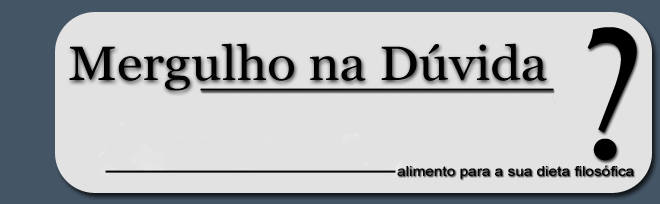Se colocássemos num aquário dez pessoas para que elas se organizassem e tentassem sobreviver, repartindo os recursos disponíveis e favorecendo a vida da melhor forma possível, isto é, garantindo mais ou menos igualitariamente a coisa em termos de satisfação afetiva e alimentar, isso daria certo? Aparentemente, não; a expectativa não se realizaria, me parece, se já um dos dez no aquário fosse inescrupuloso. Num ambiente fechado, bastaria supostamente apenas um perverso para que a vida não fosse mais possível ou fosse, pelo menos, dificilmente exeqüível.
No entanto, a vida se organiza mesmo em face das condições as mais miseráveis, como no combalido Zimbábue de Robert Mugabe, ou como a flor no asfalto de Drummond. O que, por outra parte, facilita bastante a rotina de perversos e cínicos, que devem contar sempre com alguém moralmente preocupado para poder levar a termo suas atuações.
Entre o comportamento altruísta e o mais deslavado egoísmo, faces incongruentes da nossa atuação, houve preocupação do pensamento em desvendar o segredo, o quê da nossa moral, na forma de uma suposta
natureza humana. Tanto para Hobbes (
O Leviatã) quanto para Freud (
O Mal-Estar na Civilização), individualistas hiperbólicos, organiza-mo-nos em sociedade e possibilitamos a continuação da vida a custo de uma renúncia ao prazer. O altruísmo é forçado pelo medo e pela necessidade de preservação. Nossa natureza profunda seria, na realidade, perversa, motivada pelo imperativo cego do prazer. Mas como as conseqüências coletivas da realização individual do prazer são terríveis (Hobbes a denomina de "guerra de todos contra todos"), o medo nos conduz à organização em sociedade, o que adia a consecução do prazer mas presentifica a ética.
Essa organização social, que nos protege da morte certa, deve ser simbólica, antes de tudo. As amarras da rede social são tanto mais fortes e seguras quanto mais internalizadas e mais inconscientes . Simbolicamente, então, o gozo total, nossa necessidade compulsiva, é transferido para uma espécie de pai-soberano-absoluto que, como exceção, assegura de longe, retirado da guerra, uma vida mais segura para todos. Porém menos plena, a custo de um
quantum de privação de cada um. O que no fundo, segundo os autores, não nos faz tão bem.
O simbólico, vazio, é apenas matéria inerte que serve para organizar o imaginário em torno de um ideal, emprestar-lhe suporte, e, com isso, apaziguar os ânimos beligerantes pela renúncia de cada um ao gozo total. O simbólico deve permanecer apenas como abrigo, como estrutura, como forma sem conteúdo. Qualquer tentativa real de alguém para a prática do gozo absoluto, para a encarnação da alma simbólica, seria a morte também para todos: a perda do simbólico, a queda do abrigo, restauraria a falta de sentido originária e a desorganização completa.
Essa hipótese individualista, bastante ao gosto de empiristas e liberais, não se verifica no dia-a-dia – e eles sabem disso. O
socius não é uma panacéia, não evita a barbárie, nem parece que ela esteja evolutivamente mais distante. Parece apenas que a barbárie muda de figura cada vez que inventamos um modo diferente de organizar-mo-nos em sociedade. O que constatamos quase que diariamente é uma situação bastante parecida à descrição do filme de Sérgio Bianchi,
Cronicamente Inviável. Todos somos hipócritas, de certo modo, todos tentamos inventar um jeito de colocar em prática o gozo absoluto, e a ética afigura-se como uma eloqüente ausência. Nem por isso o simbólico se desvanece. A prova é que mesmo no Zimbábue de Mugabe há ética, senão dela não haveria noção. A prova é que podemos
praticar o cinismo e também
falar sobre ele – atividades não registradas entre os animais.
Muitos animais se comunicam, e se organizam em bandos, é claro, mas não vimos até agora nenhum contando histórias, divertindo-se com piadas, realizando ritos religiosos ou refletindo sobre a dor. Entre nós, não parece haver ato sem linguagem. Aparentemente não podemos atuar desacompanhados de um sentido, aparentemente não podemos falar de nada humano despossuído de uma aplicação de signos muito mais variada. Nós não somente representamos o empírico, tornamos o ausente presente, como certos animais, mas também manipulamos o simbólico, fazemos coisas com ele,
tornamos o presente ausente. Se o que anotou Wittgenstein em 1931 for correto (MS 110, p. 61), a solidariedade entre o empírico e o simbólico deve ser, entre nós, indivisível. Ele disse que "O limite da linguagem se mostra na impossibilidade de descrever o fato que corresponde à proposição sem repetir a proposição. (Isso tem a ver com a solução kantiana do problema da filosofia.)"
Se assim for, então a horda originária de Freud e o estado de natureza de Hobbes, como dados fora da linguagem, são ficções gramaticalmente compreensivas, no entanto contraditórias como dados empíricos.
Se não há ato sem linguagem, se não há um enigma a ser desvendado, se não há nada a ser descoberto no passado evolutivo em termos morais, se nada há por detrás das palavras, o ato expressa, simplesmente, uma vontade. O ato, sem sentido como tal, constitui o sentido, é um fundamento sem fundamento. O fundamento é então a práxis: nela encontra-se uma razão aliada a uma vontade.
Mas vontade não se explica. Ela é antes a razão de uma explicação que a justifica, um
princípio de razão suficiente, digamos.
Assim, poderíamos pensar que uma organização social é apenas um ideal, um imaginário que às vezes se confunde com o simbolismo, como já o pressupõe a palavra "ideal". Qualquer prestidigitação de palavras que faça distinções – também imaginárias – entre "ideal de sociedade" e "sociedade ideal", com resquícios práticos diferentes e piores que os ideais, apenas expressam essas confusões entre o imaginário e o simbólico. No real, uma sociedade é a nossa prática social em conjunto, a expressão de uma vontade.
E, também assim, é atual - e bastante - a situação descrita no livro de Saramago – e também no filme de Fernando Meirelles –
Ensaio Sobre a Cegueira. (E compreende-se aqui perfeitamente o que o prêmio Nobel quis dizer com o seu "comunismo hormonal" no Teatro F. de São Paulo em 28/11/2008.)
O fato, em termos morais, não é apenas que a razão tem interesse, o que até Kant já sabia (cf.
Crítica da Razão Pura B 494), mas que a própria razão
é um interesse. Que a razão escolha para si regras racionais
a priori consignadas como um dever ("agir de tal forma que a máxima da tua ação possa ser uma lei universal"), já é em si um
ato de vontade. Ato é vontade, e ato não é, em si, racional. Além disso, uma vontade racional tampouco é, por si mesma, nem melhor nem pior que qualquer outro ato de vontade, senão sob um ponto de vista. Daí não haver parâmetros éticos senão para uma vontade, no seu ato. O ato não está fora do simbolismo, ele o constitui.
A ética, portanto, deve ser apenas aquilo que a vontade reconhece como tal. E a vontade é, simplesmente, aquela que domina. No mundo hodierno, suficientemente cínico, há muita gente que já percebeu silenciosa e espertamente este fato, e age dissimuladamente, de forma a acumular vantagens para si, fazendo da ética uma aparência. Em política, diz-se, o importante não é ser ético, mas parecer ético. Em termos filosóficos, essa é a situação descrita em
Cronicamente Inviável ou no
Ensaio Sobre a Cegueira.
É como se quase todo mundo hoje já soubesse qual é o jogo que se joga, e que, se você não jogar o jogo, você perde. As pessoas, conscientemente ou não, agem assim: manipulam o simbólico. Psiquiatras, líderes religiosos, filósofos, jornalistas, vários deles, agem assim: são cínicos, perversos, mesmo sem sequer dar-se conta.
Não há nenhum enigma da natureza humana a ser desvendado nisso, apenas a vontade atuando. E nos atos encontra-se o seu sentido.
Digamos, então, que no aquário não há nove éticos e um perverso. Talvez sejam nove espertos e um crédulo.
Se você é o crédulo, o que fazer agora?
Sigo depois.